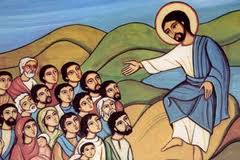2/2
João XXIII [1958-1963]
 |
| Papa Joao XXIII |
Um mês depois de ser eleito, João XXIII escreveu que tinha um programa de trabalho bem decidido e, no seu diário, aponta com satisfação como ao princípio «se difundiu a convicção de que seria um papa provisório, de transição. Pelo contrário, eis-me aqui na vigília do quarto ano de pontificado e com a visão de um robusto programa que há que desenvolver diante do mundo inteiro que observa e espera». O conceito «sinais dos tempos» representou um novo enfoque: acabava-se a Igreja imóvel, conservadora por instinto, ancorada no passado e desconfiada da história, para se converter numa Igreja disposta a repensar os temas e as questões antigas, centrada no serviço ao homem no seu conjunto e na difusão do Evangelho.
João XXIII pôs o acento na sua função de Bispo de Roma. Obviamente, todos estavam conscientes de que o papa tinha esse papel, mas esta função episcopal tinha sido tradicionalmente relegada, transferida para subalternos. Ao tomar posse da sua catedral, S. João de Latrão, explicou que «já não é o príncipe que se adorna com sinais de poder exterior que agora se observa, mas o sacerdote, o pai, o pastor […], que funde na mesma pessoa duas dignidades e duas missões incomparáveis: a de bispo da diocese de Roma e a de pontífice da Igreja universal». Esta atitude sublinhava a importância da função episcopal e das Igrejas locais, dois temas essenciais na vida eclesial, que se convertiam em protagonistas teológicos por causa do concílio e que seriam causa da posterior multiplicação de sínodos diocesanos.
O sínodo de Roma manifestou que esta cidade era uma diocese e que o papa era o seu bispo. É verdade que o desenvolvimento do sínodo constituiu objectivamente um fracasso. Os padres presentes mantiveram-se passivos e aceitaram umas constituições sinodais em cuja elaboração não participaram, manifestando uma atitude tradicional e pouco de acordo com o que sentiam e viviam os romanos do momento. Apesar disso, o mero facto de ser celebrado recordou que Roma era uma diocese normal e que tinha de a dirigir e evangelizar como as outras. Mais adiante: pelo facto de ser a diocese do papa, João XXIII pensava que devia dar exemplo e converter-se em guia e espelho do mundo cristão. […]
Perante um grupo de cardeais que o consideravam um pontífice ancião, o papa anunciou, apenas três meses depois da sua eleição, a celebração de um sínodo romano, a revisão do Código de Direito Canónico e a convocação de um concílio ecuménico. O dia escolhido para o anúncio não foi casual: o dia 25 de Janeiro, festividade de S. Paulo, apóstolo que o papa quis relacionar permanentemente com S. Pedro, segundo uma antiquíssima tradição.
Parece que se pode afirmar que grande parte da Cúria era contrária à celebração deste concílio, e hoje sabemos que Roncalli estava consciente desta reacção negativa: «Humanamente podia supor-se que os cardeais, mal escutada a alocução, se congregariam à nossa volta para expressar a sua aprovação e bons votos. No entanto, produziu-se um impressionante devoto silêncio.» A preparação do concílio, por parte da Cúria, foi rejeitada em grande parte já desde as primeiras sessões. Não houve sintonia, nem podia havê-la, entre uma Cúria esclerosada e um episcopado que, em grande parte, precisava de responder às inquietações contemporâneas. Para muitos membros da Cúria, depois da definição da infalibilidade pontifícia, julgava-se que já não eram necessários concílios. No entanto, para João XXIII a amplitude e a novidade dos problemas presentes no mundo contemporâneo exigiam a colaboração e a co-responsabilidade de todos os bispos da Igreja reunidos em concílio, uma das formas mais antigas de exercer a autoridade na tradição eclesial.
Outro objectivo do concílio era evidenciar a substância do cristianismo, às vezes opaca por causa de tantos revestimentos e acrescentos acidentais. O papa estava consciente desta necessidade, não só pelos seus conhecimentos históricos, mas também pelo seu trato frequente com as Igrejas orientais. Para o papa, devia tratar-se de um novo Pentecostes, de uma efusão do Espírito Santo capaz de reanimar a riqueza interior da Igreja. Isto explica o perfil de um concílio que se apresentou como um acontecimento pastoral, centrado no anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo.
O período de preparação deu a entender que as Igrejas cristãs, de maneira especial as ortodoxas, iam responder positivamente ao convite de enviar observadores aos trabalhos conciliares. Nem o Vaticano I, nem Trento o tinham conseguido, mas, neste caso, era o fruto do novo clima instaurado pelo papa e conseguido também graças à atitude conciliadora demonstrada pelo cardeal Bea. O ecumenismo deixava de ser uma palavra vazia para se converter num espírito e num desejo partilhado. Durante os trabalhos conciliares, mais de cem observadores de comunidades não-cristãs tomaram parte activa. As relações pessoais com o patriarca Atenágoras e o encontro com o arcebispo de Cantuária, Geofrey Francis Fisher, inauguraram uma época de diálogo e convergência entre as Igrejas cristãs.
 |
| 11 Out 1962 - Abertura do Concílio Ecuménico Vaticano II |
O concílio constituiu o eixo vertebral deste pontificado, tanto na sua preparação, como no seu desenvolvimento, tanto na elaboração da sua fisionomia, como na fixação dos seus objectivos. Três mil bispos reuniram-se para dialogar sobre os problemas mais urgentes do cristianismo e da humanidade. Provavelmente, João XXIII pensou que o concílio duraria só uma sessão. Com um optimismo invejável, mas que se revelaria infundado, acreditava que «o consentimento dos bispos não seria difícil e a sua aprovação seria unânime». Não era o corpo eclesial assim tão homogéneo, nem concordava em tantos temas importantes... Pelo contrário: por trás de uma fachada de calma e de conformismo existia uma forte crise interior e, sobretudo, a convicção de que tinham de mudar muitas coisas no seio da instituição. Como clamorosamente aconteceria alguns anos mais tarde na Igreja em Espanha, o concílio foi a ocasião e não tanto a causa da aparição de correntes de mal-estar, renovação, confronto e reestruturação.
Pela primeira vez, em séculos, a Igreja reunia-se, não para condenar ou atalhar uma heresia, mas para se examinar e renovar, e a realidade demonstrou que o tempo era propício. O papa animou a escolher uma atitude de misericórdia e não de condenação.
No início das sessões apareceram com clareza quais iam ser as finalidades do concílio: a participação da Igreja na busca de uma humanidade melhor, o pôr em dia as estruturas e a apresentação da mensagem da Igreja, bem como a preparação dos caminhos para a unidade entre os cristãos. É verdade que estes fins não eram privativos deste concílio, mas da Igreja de todos os tempos, mas não há dúvida que nesse momento foram enfrentados com uma nova atitude e entusiasmo. Algo parecido aconteceu com o papa: obviamente, não podia saber como é que o concílio ia desenrolar-se, mas não há dúvida que traçou as suas linhas mestras através de uma obscura intuição que não poucos definiram como profética.
No discurso inaugural sublinhou que continuava a ser Cristo o grande problema colocado diante do mundo e diante do qual os homens tinham de tomar posição. Rechaçou a atitude pessimista e as nostalgias do passado dos profetas da desgraça. Indicou que o nosso dever não se reduz unicamente a guardar este tesouro precioso, como se apenas nos preocupássemos com a antiguidade, mas devíamos dedicar-nos com vontade e sem temor à obra que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há vinte séculos. O papa afirmou que o objectivo do concílio não era realizar uma obra intelectual ou de técnica teológica, mas tinha de centrar a sua atenção em como anunciar o Evangelho e como estruturar a vida cristã. De facto, o concílio converteu-se no mais revolucionário acontecimento cristão desde a época da Reforma.
Com João XXIII iniciou-se um autêntico e real diálogo entre as chamadas «religiões do livro», o qual prosseguiu com altos e baixos durante os pontificados seguintes. A declaração católica de 1998, sobre a responsabilidade histórica dos católicos na posição antijudaica, vai nesta mesma direcção. Em 1960, o movimento para a independência de boa parte do continente africano obteve o apoio e simpatia da Santa Sé, que favoreceu a passagem da Igreja missionária para as Igrejas indígenas.
João XXIII escreveu oito encíclicas não só de temática religiosa, mas também social, dirigidas a todos os homens de boa vontade e que abordaram temas urgentes do momento. No dia 11 de Abril de 1963, Quinta-Feira Santa, apareceu a Pacem in Terris, uma encíclica que foi acolhida na Igreja como uma lufada de ar fresco e que, em Espanha, se tornou num autêntico marco no caminho da renovação eclesial. Abandonando a retórica anti-comunista da Guerra Fria, esta encíclica constitui uma viragem revolucionária na cosmovisão cristã dos problemas temporais. Faz da dignidade humana o centro de todo o direito, de toda a política, de toda a dinâmica social e económica. Utilizando a categoria evangélica d’o sinal dos tempos, mostra como a promoção económica e social dos operários, o ingresso da mulher na vida pública, a organização jurídica das comunidades políticas, os organismos de projecção internacional nos campos político e social, e o fenómeno da socialização são sinais que indicam modos possíveis da presença do Reino de Deus na história. Na Pacem in Terris, o papa chega a afirmar que, na era atómica, não pode dar-se a guerra justa.
A morte de João XXIII provocou uma comoção generalizada. A Praça de São Pedro converteu-se numa capela, num imenso espaço religioso no qual toda a espécie de pessoas se reunia para rezar, olhando com angústia para a janela do terceiro andar, no qual se encontrava o papa. Esta morte produziu um assombroso e vasto sentimento de aflição pessoal.
Talvez o seguinte parágrafo dos seus escritos explique, melhor do que muitos comentários, a atitude e a posição deste papa:
«Agora, mais do que nunca, certamente mais do que nos últimos séculos, devemos dedicar-nos a servir o homem enquanto tal e não só os católicos; a defender, sobretudo e em toda a parte, os direitos do homem e não somente o da Igreja católica. As circunstâncias actuais, as exigências dos últimos cinquenta anos, o aprofundamento doutrinal conduziram-nos a novas realidades, tal como afirmei no discurso de abertura do concílio. Não é o Evangelho que muda: somos nós que começamos a compreender melhor. Quem viveu mais tempo encontrou-se, no princípio do século, com tarefas novas de uma actividade social que se relaciona com todo o homem; quem viveu, como foi o meu caso, vinte anos no Oriente, oito em França e pôde confrontar culturas e tradições diversas, sabe que chegou o momento de reconhecer os sinais dos tempos, de acolher a oportunidade e olhar para longe.»
Juan María Laboa Gallego, ‘HISTÓRIA DOS PAPAS – Entre o Reino de Deus e o poder terreno’, Esfera dos Livros, Abril 2010, pp. 434-438, ISBN 978-989-626-213-6, 548 p., 35 euros.