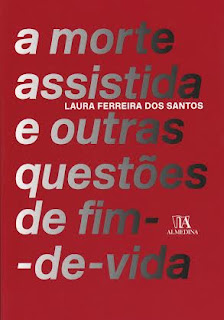THE
PHILOSOPHER’S BRIEF
— seis
filósofos morais defendem o suicídio assistido
Nos Estados Unidos, há o costume de,
perante casos judiciais envolvendo assuntos polémicos, serem enviadas cartas ao
Tribunal em nome de pessoas ou organizações que, não estando envolvidas no
litígio, pretendem fazer ouvir a sua voz, aduzindo argumentos que reputam de significativos
em favor da posição que defendem. Um/a amicus curiæ é então «um/a amigo/a do
Tribunal» muito interessado/a em favorecer uma determinada decisão e que crê
estar na posse de importantes informações legais ou de argumentações
extremamente válidas que ainda não são suficientemente conhecidas ou não foram
ainda sequer esboçadas. No entanto, há regras específicas para que essas cartas
sejam aceites, apenas podendo ser apresentadas ou com o consentimento de todas
as partes, ou com a autorização ou pedido por parte do Tribunal. Destas
exigências apenas estarão escusadas as cartas que provierem de elementos
ligados ao próprio Estado ou estados, por lhes ser dado um carácter oficial
(cf. por ex., Amicus curiæ, s/d).
Quando as cartas são boas, as e os juízes têm interesse em conhecê-las, podendo
lê-las todas ou usando outra estratégia para tomarem conhecimento do seu
conteúdo. Podem assim solicitar a certos funcionários que escolham as mais
importantes, lendo então todo o seu conteúdo mas apenas dessas. Podem também
ler só as partes sublinhadas pelos funcionários ou solicitar-lhes a entrega de
resumos. A atestar a importância destas cartas — geralmente provenientes de
áreas "liberais» —, afirma-se que, durante os anos noventa do século XX,
elas foram citadas ou referidas em 18% das opiniões dos Tribunais ou dos juízes
individualmente considerados (para muitos outros pormenores, cf. por ex.,
Shapiro, s/d[1]). Como é
óbvio, os casos de aborto e de suicídio assistido deram origem à elaboração de
muitas destas cartas. De entre as que ficaram mais conhecidas no que diz
respeito a esta última problemática vou salientar, como disse, a que ficou
conhecida por «The Philosopher's Brief».
Foi elaborada, como também já afirmei, por seis filósofos morais americanos,
sendo Ronald Dworkin o autor da «Introdução» ao texto. Foi publicada no New York Review of Books em 27 de Março
desse ano (cf. Dworkin, et aI., 1997)[2].
Antes de avançarmos, porém, convém saber, embora muito rapidamente, as
circunstâncias em que esta carta surgiu.
Em Janeiro de 1994 e em Julho desse
mesmo ano, respectivamente em Washington e Nova Iorque, surgiam duas acções
judiciais que pretendiam pôr em causa a proibição do suicídio assistido
existente nos dois estados, acções subscritas por médicos e doentes seus em
estado terminal. A acção foi-se desenrolando ao longo dos anos, passando por
diversas instâncias judiciais até chegar ao Supremo Tribunal dos Estados
Unidos. É precisamente antes de o Supremo se pronunciar (negativamente) sobre
estas solicitações que a Philosopher's
Brief surge, salientando, a sua primeira nota, o carácter aparentemente
inusitado de este grupo pretender intervir junto do Supremo valendo-se apenas
da característica de serem filósofos (morais), não se enquadrando numa
classificação mais vasta. No corpo da carta dir-se-á que, não obstante as
diferenças que os separam no campo da filosofia moral e política, estão unidos
no respeito por princípios fundamentais de liberdade e justiça, assim como pelo
respeito do que consideram ser a tradição constitucional americana. É isso que
os leva a afirmar que as decisões defendidas pelos tribunais de Recurso, que
tinham deliberado a favor dos queixosos, deveriam ser mantidas no Supremo.
Fundamentalmente, a «Introdução» visa
dois objectivos: em primeiro lugar, descrever a discussão oral mantida entre os
defensores de cada uma das partes envolvidas e os juízes do Supremo em Janeiro
desse ano (1997), descrevendo-se também as tendências que os comentários dos
juízes indiciavam; em segundo lugar, para o caso de o Tribunal vir a
pronunciar-se contra os pedidos de suicídio assistido, como parecia provável,
fazer algumas sugestões que minimizassem os danos que, na perspectiva deste
subscritores, daí resultariam para a lei constitucional americana.
Quanto à discussão mantida em Janeiro
desse ano, Ronald Dworkin considera que os juízes utilizaram recorrentemente
duas versões do argumento da vertente
escorregadia («slippery
slope argument» - "rampa
deslizante"): uma de ordem teórica e outra de ordem prática. Pela
primeira, recusava-se a ideia de que pudesse ser traçada uma linha clara entre
os casos em que o suicídio assistido, segundo os queixosos, seria apropriado, e
os casos em que não o seria. Afinal, porque é que se havia de restringir o
suicídio assistido aos doentes terminais em grande sofrimento? Porque não
abranger outros casos em que as pessoas estavam em sofrimento físico ou
emocional? E porque não autorizar a eutanásia para quem não pudesse já tomar os
medicamentos letais? Mas, estendendo assim tanto a possibilidade de se recorrer
ao suicídio assistido, como negá-lo a uma pessoa que tivesse vontade de morrer,
como por exemplo um/a jovem em situação de amor não retribuído?
A isto, The Philosopher's Brief responde de dois modos. Por um lado,
definindo «um princípio moral e constitucional muito geral: que toda a pessoa
lúcida tem o direito de tomar decisões pessoais muito importantes que invocam
convicções religiosas ou filosóficas fundamentais acerca do valor que a vida
tem para si própria» (p. 2). Em segundo lugar, reconhecendo que, porque
pode haver situações perigosas em que alguém deseja morrer por motivos
reversíveis ou impulsivos, agradecendo mesmo mais tarde o facto de a terem
impedido de praticar o acto que se propunha pois não reflectia as suas
convicções profundas, o Estado pode sobrepor-se a esse direito. Quanto à versão
prática do argumento da "vertente escorregadia", ela expressa o
receio de que doentes em estado muito vulnerável, como é o caso de doentes
pobres, pudessem ser pressionados no sentido de solicitarem o suicídio
assistido. No entanto, a carta dos filósofos contraria este receio. Na medida
em que os princípios orientadores de uma lei regulamentando o suicídio
assistido deveria prever uma boa oferta de cuidados paliativos antes de ser
atendido o pedido de um suicídio medicamente assistido, os/as doentes pobres
estariam até mais protegidos do que agora quanto ao sofrimento, num país em que
se supõe que 25% dos doentes terminais morrem com dores. Nesse caso, a
qualidade dos cuidados paliativos teria de subir, ao contrário de agora, em que
a «sedação terminal» representava a solução barata para os casos mais difíceis.
Por outro lado, com essa regulamentação, passariam a beneficiar de uma
possibilidade – o suicídio medicamente assistido – que, até aqui, tem sido
sobretudo um privilégio de famílias economicamente bem situadas, com bons
conhecimentos dentro do pessoal médico. Baseados em estudos vários sobre o modo
como médicas e médicos responderam a pedidos de suicídio assistido em várias
zonas dos Estados Unidos, os filósofos chegam mesmo a afirmar que as percentagens
encontradas se aproximavam das que se registavam na Holanda.
Partindo-se assim do princípio de que
nenhuma das mencionadas versões da «vertente escorregadia» tem grande
consistência, considera-se que o Supremo tem pela frente duas possíveis opções.
A primeira delas declararia que os/as doentes terminais em grande sofrimento
não têm o direito de controlar o tempo e o modo das suas mortes, o que, na opinião dos
subscritores desta carta e do próprio «Solicitor General», não parecia estar de
acordo com o sistema constitucional americano, que permite aos cidadãos
pensarem o que quiserem sobre o sentido ou valor da vida humana. Mais ainda,
essa posição colidiria com práticas já adoptadas nos Estados Unidos quanto à «medicina
terminal», ou seja, aquela que se baseava no direito de os/as
doentes poderem pedir para serem «desligados» de mecanismos de suporte vital (e
assim morrerem). Não obstante os juízes do Supremo já se terem manifestado, na
discussão oral, pela distinção entre actos e omissões para justificarem a
prática «terminal», que deixaria a natureza tomar o seu curso, e para
justificarem igualmente a oposição ao suicídio assistido, que implicaria um
acto que deliberadamente visaria a morte, afirma-se nesta carta que o apelo a essa
distinção é falacioso. A distinção fundamental a fazer não seria entre actos e omissões, mas
«entre actos ou omissões que visam ou não causar a morte» (p. 3). Assim,
pensam que se um/a doente pretende ser desconectado/a de um mecanismo de
suporte vital para poder morrer, estará a cometer um suicídio. E as/os médicas/os
que desconectam os suportes vitais visarão por vezes a própria morte, algo
evidente na sedação terminal acompanhada da supressão de alimentação e
hidratação artificiais, pois essa supressão não é feita para aliviar o sofrimento,
mas para antecipar
a morte. Pelo contrário, um/a médico/a que prescreve drogas letais
pode não pretender que a/o doente os tome, mas dar-lhe o conforto psicológico
de uma «saída» não excessivamente penosa. Por tudo isto, a distinção efectuada
entre actos e omissões seria demasiado frágil, não só para sustentar a prática
terminal da medicina que já se encontra legalizada, mas também para proibir a
ajuda no suicídio.
A segunda opção pela qual o Supremo
poderia enveredar seria a de pronunciar-se a favor de um direito genérico ao
suicídio assistido, mas negá-lo a seguir por considerar que os riscos aí
implicados eram excessivos. Este é um caminho que a carta julga também frágil e
perigoso — então, um
Estado vai assumir a negação de um direito apenas porque não acredita na sua
competência para o regulamentar? Além de que os supostos perigos práticos
da «vertente escorregadia» não teriam sido devidamente analisados.
Perante estas duas más estratégias
possíveis abertas diante do Supremo, a carta propõe uma terceira, que lhe
parece mais razoável: o adiamento da resolução, com base na
pouca experiência recolhida no campo do suicídio assistido.
(…)
Laura Ferreira dos Santos, «The philosopher’s Brief: seis filósofos morais defendem o suicídio
assistido», in «A morte assistida e outras questões de fim-de-vida»,
Almedina 2015, pp. 143-154. ISBN 978-972-40-6106-1.
[2]
As páginas citadas seguirão a numeração obtida de acordo com a edição efectuada
a partir da Internet.