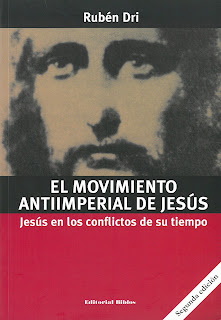VI. O MOVIMENTO DE JESUS
1 – A caracterização do movimento
Faz parte da nossa cultura cristã
interpretar a prática e o projecto de Jesus como acções viradas essencialmente
para a fundação da Igreja. Refiro-me à prática e ao projecto, mas, na leitura
que as igrejas fazem, fala-se frequentemente de "ministério" de Jesus,
"pregação" de Jesus, como se Jesus fosse à partida o "sacerdote" da
Igreja Católica ou o "pastor" das Igrejas protestantes.
Hoje em dia, não existe nenhuma exegese séria que dê suporte a
tal ponto de vista.
No horizonte histórico-cultural do povo hebreu em que Jesus desenvolveu toda a
sua actividade, o tema «Igreja», tal como é concebida na cultura católica, na
protestante, na ortodoxa ou na arménia, era absolutamente impensável. Tal
enfoque nasce no mundo helenista, após a morte de Jesus.
A imensa maioria dos inúmeros estudos que
se realizaram sobre Jesus, a sua actividade, a sua mensagem, provêm de teólogos
que têm por trás deles uma instituição, uma igreja. A epistemologia deles está
enquadrada pelo contexto dessa instituição. Isso faz com que os pressupostos
prévios estreitem as possibilidades que as fontes que consultam lhes abrem.
A abertura dos estudos teológicos às
ferramentas hermenêuticas e críticas provenientes de distintas disciplinas
sociais é recente e choca necessariamente com dogmas estabelecidos há muitos
séculos. Como poderá, por exemplo, um teólogo católico que dirige uma cátedra
de teologia numa universidade católica aceitar que Jesus não tenha fundado
nenhuma igreja? Poderá, ele, admitir que a célebre afirmação que Mateus coloca
nos lábios de Jesus, sobre o poder de atar e desatar, não corresponde ao Jesus
histórico?
Quanto a isso, os teólogos provenientes da
tradição protestante gozam de maior liberdade, mas até esses possuem os mesmos
constrangimentos provenientes, quer das igrejas a que pertencem, quer do quadro
epistemológico da própria teologia que, em geral, não inclui ou não parte de
uma análise histórica,
económica, política e social prévia.[1]
Isso não quer dizer que possamos fazer
exegese e hermenêutica desprovidas de qualquer resquício de preconceito.
Impossível: todos o temos. Quanto a isso, o pior que nos pode acontecer é
pensar que estamos livres deles e, dessa maneira, sermos capazes de um
conhecimento objectivo, porque, então, não só não nos libertamos de todo o preconceito
como perdemos a oportunidade de manter sobre eles a necessária vigilância
epistemológica.
Do meu ponto de vista, é esta a falha
fundamental dos trabalhos de Gonzalo Puente Ojea, no que diz respeito a
esta questão. Ojea pretende realizar a hermenêutica com «uma postura de plena
independência intelectual» (FIP, p. XVII), e reflectir «sem preconceitos»
(idem, p. 26), mas, ao mesmo tempo, vê em todos os outros autores
neotestamentário má-fé, intenções enganosas, adulterações e todo o tipo de
maldades.
Depois dos brilhantes e profundos estudos
weberianos sobre as estreitas relações entre o religioso e a sua expressão
conceptual, entre o teológico e o económico-social, não é possível fazer
teologia sem ter em conta o contexto sociopolítico. O teológico tem que ver com o simbólico, com o
significado. A teologia não descobre factos novos, mas significados novos.
Lendo os evangelhos sinópticos, e em
particular o de Marcos, nunca tropeçamos numa igreja. Apenas nos encontramos
com Jesus que anda sempre a caminho, que passa a vida daqui para acolá, que faz
curas numa casa, numa sinagoga ou no campo, que fala ao povo no campo ou na
margem dum lago. Atravessa o lago em todas as direcções e até arrisca ir à
Sirofenícia.[2]
No entanto, para lá desta actividade
contínua e incansável, Jesus organiza algo e não reduz a sua acção apenas a
comover consciências sem cuidar o mínimo do futuro desse impacto espiritual. A
resposta de Jesus está na construção dum «movimento». Jesus não funda uma Igreja, mas um movimento.
Devemos, então e antes de mais nada, perceber em que consiste um movimento.
O primeiro problema que nos surge é que,
por princípio ou em essência, não podemos definir um movimento. E não se
consegue, porque definir alguma coisa é delimitá-lo, e um movimento que o seja
a sério arrasa com todo o tipo de limites, ultrapassa todo o tipo de
institucionalização. É semelhante a um rio que salta fora das margens, que
rompe todos os diques e taludes.
A lógica do movimento é heraclítica.[3]
É como um rio no qual é impossível banhar-se duas vezes na mesma água, porque
flui constantemente. O movimento é como a seiva de uma árvore, como um «impulso
vital» ao qual se refere Henri Bergson. A seiva é incompatível com
estruturas. A árvore bem tenta aprisioná-la através do tronco, dos ramos e das
folhas. Inutilmente, pois a seiva segue sempre o seu caminho: quer sempre mais
e, por isso, a árvore vê-se na obrigação de fazer brotar novos ramos, novas
folhas.
O movimento é o impulso vital dum povo.
Neste sentido, pode-se-lhe aplicar a categoria de «carismático», formulada por Max Weber.
Para Rafael
Aguirre o movimento é «um grupo carismático que surge ao lado das
instituições estabelecidas, frequentemente em contraposição a elas, que defende
comportamentos não habituais, sobretudo no campo económico, e que se encontra
polarizado por objectivos imediatos» (Mjic, p. 34). Isto não é uma tentativa de
definição de "movimento" – porque, como ele o dizia, é coisa
impossível – mas uma tentativa de aproximação. É incorrecto querer colocar um
«grupo» como o sujeito-cabeça do movimento, porque isso faz com que se valorize
a parcialidade. O impulso vital e a força que configura o núcleo do movimento
são constituídos pela conjunção de diversos sectores sociais cujos contornos
são indefinidos.
Não é por acaso que, nas sociedades não
capitalistas nas quais propriamente não existem classes sociais, as respostas
sociais que surgem sejam de tipo ꞋmovimentistaꞋ. O mesmo acontece, hoje e dia,
nos países terceiro-mundistas. Os movimentos da época moderna surgem nestes
países do terceiro-mundo e não naqueles em que o capitalismo atingiu um certo
grau de desenvolvimento.
Os movimentos são constituídos por vastos
sectores sociais populares, aquilo que na nossa prática política sempre
denominamos por "campo popular".
Falamos mais de «sectores populares» que de classes sociais, porque, nas
sociedades nas quais se desenvolvem os movimentos populares, os grupos sociais
não existem com os contornos específicos que são próprios das classes sociais.
Assim, na nossa sociedade, é muito difícil
atribuir essa categoria de «movimento» a uma classe social propriamente dita (p.
ex., aos que trabalham por conta própria, aos tendeiros, aos que fazem trabalho
temporário, aos desempregados, etc.), que sempre constituiu uma percentagem
significativa da população, e que a partir da imposição do neoliberalismo
conservador passou a ser a imensa maioria. Não se pretende negar a existência
de classes sociais, mas deixar claro que elas se encontram socialmente mal
desenhadas e com contornos confusos.
Os sectores que estão incluídos num
movimento vão desde a classe operária até aos desempregados, aos bairros de
lata, passando por mesclados e por vastos sectores intermédios até aos pequenos
e médios empresários. Se existe algo ambíguo e sumamente complexo é aquilo que
se designa por «classe média».
O «movimento» surge à margem das
instituições estabelecidas. Mais: é alérgico a todo o tipo de institucionalização,
porque isso implicaria a imposição de limites e freios ao impulso vital, ou
seja, à essência do movimento. Contudo, o movimento deve institucionalizar-se,
caso não queira diluir-se e desaparecer como uma nuvem de vapor ou ser
manipulado a bel-prazer por alguém.
Assim se produz uma contradição intrínseca
no movimento: recusa todo o tipo de institucionalização ao mesmo tempo que a
exige sob pena de desaparecer. Se se procura institucionalizar o movimento, ele
desaparecerá, congelando-se. A solução será: a instituição e as instituições em
que o movimento se exprime não o devem abarcar totalmente, mas servi-lo dentro de objectivos
determinados. As instituições são instrumentos que se oferecem ao movimento a
fim de que ele realize as missões que lhe são exigidas.
Não serve qualquer tipo de instituição, mas
apenas aquela ou aquelas que respondam aos objectivos que deram origem ao
movimento. Em primeiro lugar, muitos
movimentos acabam por morrer traídos pelas instituições ou pela instituição que
o deveria encarnar. É o caso do Partido Justicialista, sobretudo a partir da
década de 90, mas também antes, quando o seu surgimento significou a morte do
movimento peronista, e o do Partido Radical aquando da época alvearista, na
década de 30 (Marcelo Torcuato de Alvear, 1868-1942), o que significou a morte
do movimento yrigoyenista (Hipólito Yrigoyen, 1852-1933).
Em segundo
lugar, para construir um movimento, os diversos sectores sociais
unem-se à volta de grandes eixos que exprimam os seus problemas fundamentais e
os problemas de toda a nação. Assim, quando se formou o peronismo da década de
40, alguns desses eixos foi a criação de organizações laborais
(grémios/sindicatos), de obras sociais, a questão da industrialização, a
nacionalização de sectores fundamentais para a economia, o voto das mulheres,
etc.
Em terceiro
lugar, os movimentos surgem a partir de baixo segundo um processo de
gestação lenta, à volta das necessidades comuns dos sectores populares, que se
exprimem nos grandes eixos que acabo de citar. O peronismo surge, à luz do dia,
a 17 de Outubro de 1945. De um certo ponto de vista, pode dizer-se que não foi
preparado por ninguém. O «17 de Outubro» foi uma reacção espontânea de sectores
populares diante da agressão das classes dominantes. Segundo um outro ângulo de
visão, deve dizer-se que teve um longo processo de preparação. Desde a crise do
movimento yrigoyenista, que foi ultrapassado, que se vinha gerando o peronismo
nas entranhas do povo.
É assim que acontece com todas as
revoluções: com o surgimento de movimentos sociais e políticos que se
constituem em protagonistas
de grandes mudanças. Isto está conforme com o que dizia Hegel, «o espírito que se vai
constituindo amadurece lenta e silenciosamente rumo a uma nova configuração;
ligado ao mundo anterior, o espírito vai-se soltando dele partícula a
partícula, sendo os estremecimentos desse mundo novo apenas anunciado por meio
de sintomas
isolados» até que surge «a aurora que, subitamente como um raio
ilumina totalmente a imagem do mundo novo» (FE, p. 12).
A vitalidade do movimento exige que a
instituição ou as instituições não o fagocitem. A instituição ou as
instituições são instrumentos do movimento ou da vida. Existirá sempre o perigo que o instrumento – a instituição – suplante o movimento. Este,
na medida em que mantenha a sua vitalidade, ultrapassará o instrumento por
todos os lados.
Neste sentido, as assembleias que surgiram
a partir da aurora que iluminou o rosto nas jornadas de 19-20 de Dezembro de
2001 constituíram um movimento formado por uma multidão de movimentos. Todos
aqueles que não sejam capazes de formar uma organização no sentido amplo diluem-se. Se se mantiverem apenas como rizomas, desaparecerão.
1.1. O movimento de
Jesus é um movimento popular profético
Na verdade, todo
movimento profético é popular. Nunca é demais dizê-lo por causa das
interpretações «religiosas» daquilo que é profético, as quais costumam
desligá-lo do seu profundo enraizamento popular. Para além disso, a partir de
tudo aquilo que estamos a analisar neste trabalho, referirmo-nos à prática e ao
projecto de Jesus e prescindir do povo – o óklos
– é impossível.
Trata-se de um
movimento profético no sentido dos movimentos proféticos aos quais pertenceram
os grandes e radicais profetas de Israel. Com efeito, e tal como já vimos, o
povo reconhece-o como tal (Mc 8, 27-29). Os sectores populares, ao falar de
Jesus, referiam-se aos grandes profetas da sua história. Para eles era evidente
que Jesus era um representante dessa estirpe de profetas populares que marcaram
a sua história.
Jesus fora
discípulo de João Baptista, fez parte do seu movimento, do qual se afasta por
achar que o movimento deve ter características diferentes daquelas que o
Baptista havia traçado. Mas é por de mais evidente que, apesar das contradições
entre os dois movimentos, eles têm uma característica comum: o serem
proféticos. A prova de que é assim é que parte do movimento do Baptista
passa-se para o grupo dos primeiros cristãos pós-pascais.[4]
Quando Jesus vai à
sua aldeia – Nazaré – para aí anunciar
também a sua mensagem do Reino, os seus camponeses, que o conheciam como um
deles, com a mesma formação deles, não podiam aceitar que ele agora pretendesse
anunciar-lhes a salvação. E rechaçaram-no. Então, Jesus exclama: «Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus
parentes e em sua casa.» (Mc 6, 4) Ou seja, Jesus reconhece-se como um profeta.
No período intermédio entre a formação do movimento na
Galileia e o enfrentamento dos poderes estabelecidos, Marcos intercala o texto
teológico apocalíptico conhecido como «Transfiguração». Nesse texto
apresenta-se Jesus dialogando com Moisés e Elias. Estes dois, segundo a opinião
popular, são as figuras máximas do profetismo. Moisés[5]
é o profeta que guiou o povo[6]
aquando do seu Êxodo do Egipto e Elias é o profeta que enfrenta, sem
concessões, o casal real Acab e Jezabel (1Rs 18, 13; ler todos os 3 capítulos
deste livro: cap. 17, cap. 18 e cap. 19).
A atitude de Jesus diante dos sacerdotes e do Templo – o
símbolo máximo do poder sacerdotal – é a mesma atitude dos profetas. De facto, o conflito
entre o sacerdócio e o profetismo popular atravessa todos os
séculos da monarquia hebraica, sobretudo desde o século VIII ao século IV,
altura em que começa a sobressair a literatura apocalíptica.
Amós, o grande profeta das denúncias
sociais mais radicais, enfrenta o sacerdote de Bethel, Amacias, funcionário da
realeza do Reino do Norte. Amós é convidado pelo sacerdote a abandonar aquele
território: «Sai daqui, vidente, foge para a terra
de Judá e come lá o teu pão, profetizando. Mas
não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei e
o templo do reino.» (Am 7, 12-13) O profeta indigna-se e formula ameaças
terríveis contra o sacerdote (Am 7, 17).
O sacerdote e o poder, o sacerdote e o rei
constituíam dois polos contraditórios do poder, contudo, sempre negociando
entre si, sempre estabelecendo pactos. Eram uma associação de interesses mútuos,
facto que se repetia em todas as monarquias e impérios: no acádico, no
babilónio, no assírio, no egípcio. Desde que se operou a unificação do poder
régio-sacerdotal numa única pessoa, a anterior e clássica negociação entre rei e sacerdote
passa a ser substituída pela maneira como se combina
o poder real com o poder sacerdotal.
O conflito entre
Amós e Amacias repete-se com Jeremias, um século mais tarde, no Reino do
Sul, em Judá. Diante dos poderes político e religioso, que haviam convencido o
povo a depositar uma confiança cega no Templo pois aí estava Deus para o
defender de todos os inimigos, o profeta Jeremias tenta convencer o povo a não
confiar no Templo enquanto aí se cometerem crimes (o Templo havia-se convertido
num covil de ladrões: v. 11; Jer 7, 4-15; Marcos 11, 17 par.). Ressoa, então, a
recriminação que Marcos coloca na boca de Jesus, quando este enfrenta o Templo de
Jerusalém: "Vocês pensam que a minha casa é
um refúgio de
assassinos?" (Jer 7, 11) A Bíblia de Jerusalém em vez de
«assassinos» traduz por «ladrões», «bandoleiros», para ficar mais perto da
expressão de Jesus, o qual diz "covil de ladrões" (spélaion lestón)
(Mc 11, 17).
Desta maneira, Jeremias
enfrenta os poderes real e sacerdotal. Tal como aconteceu a Amós, é
precisamente o sacerdote quem enfrenta Jeremias: «O sacerdote Pachiur, filho de Émer, superintendente do
templo do Senhor, ouviu o profeta Jeremias pronunciar este oráculo.
Pachiur mandou espancar o profeta e pô-lo no cepo da prisão, que estava na
porta superior de Benjamim, junto do templo do Yahvé.» (Jer 20, 1-2)
Contudo, o profeta Miqueias é quem será
o mais radical de todos os profetas, em matéria de enfrentamento do poder real
e sacerdotal: «Por isso, por vossa causa, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém
será reduzida a um monte de pedras, e o monte do templo será um outeiro na
floresta.» (Mq 3, 12)
É a esta corrente profética – que enfrenta os poderes real e sacerdotal –
que Jesus pertence, cujo acto supremo, nesta luta contra estes poderes, será a
irrupção no Templo de Jerusalém, o qual, nas palavras de Jesus, é como uma
figueira que não dá figos e, por isso, deve ser cortada e lançada à fogueira.
(…)
Rubén Dri
Professor e Investigador de Ciências
Sociais da Universidade de Buenos Aires.
[pp. 56]
[1] Obviamente que existem excepções, e muitas delas notáveis, tais como John Dominic Crossan, Gerd Theissen, Rafael Aguirre, Florencio Mezzacasa e Ched Myers («Binding the Strong Man: A Political Reading of Mark's Story of Jesus» – Deluxe Edition), para falar apenas de alguns trabalhos que me guiaram inúmeras vezes e cujas posições às vezes ponho em causa.
[2]
Não concordo em nada com Puente Ojea que defende que «o Evangelho marquiano já
é um evangelho eclesiástico, que apenas precisaria de uns quantos complementos
por parte de Mateus e de Lucas. É um relato dogmático que, ainda que transido de
grande emoção escatológica, tem os olhos postos no passado» (EM, p. 13).
Ainda que nas Cartas Pastorais, dos finais do século I ou
princípios do século II, já exista nelas uma certa inclinação para a ortodoxia,
os dogmas são inaugurados no Concílio de Niceia no ano 325. Falar de dogmas
ante-parto é um anacronismo: é o mesmo que pressupor a existência de uma
Igreja, no sentido institucional, na comunidade de Marcos.
[3]
Heráclito [500 aC] de Éfeso, o pai da dialéctica. [NdE]
[4]
Acerca do tema da incorporação de membros do movimento Baptista na
"comunidade do discípulo amado", cfr. Raymond Brown, «La comunidad del discípulo amado».
[5]
A figura de Moisés é central na história do povo hebreu. Para a história
yahvista, ele é um monarca. Para a história sacerdotal ele é apresentado
subordinado ao sacerdote Aarão. E para a história elohista, tal como para a
deuteronomista, é o maior dos profetas. Esta última é a concepção popular da
figura de Moisés.
[6]
Do Egipto
não saiu nenhum "povo", apenas um grupo heterogéneo, um movimento.
Na imaginação popular calou fundo, quanto à origem do povo, a gesta de
libertação protagonizada por este grupo, que foi interpretado como o povo das
Doze tribos. De facto, são os relatos yahvista e sacerdotal os que fazem esta
interpretação, ao passo que a narrativa elohista mantém-se mais próxima dos aspectos
históricos, na medida em que fala apenas de um grupo
heterogéneo.